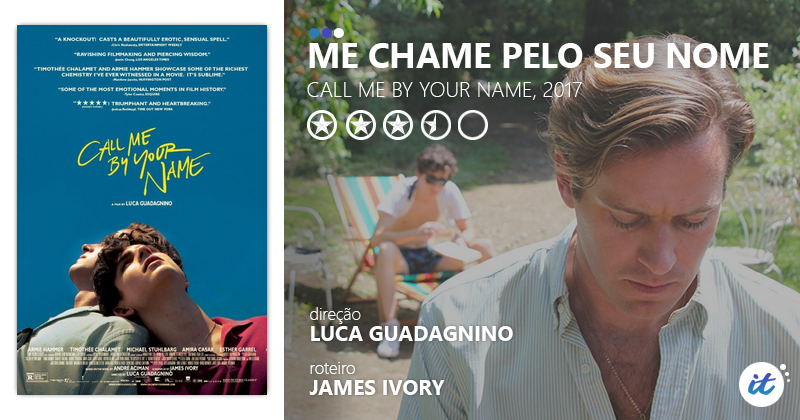Indicado aos Oscars de:
- Melhor Filme
- Melhor Atriz (Meryl Streep)
O comediante Seth Meyers, apresentador do Globo de Ouro 2018, brincou durante a apresentação de "The Post: A Guerra Secreta" ao trazer vários prêmios enquanto descrevia o filme, o que fez a plateia chorar de rir. E também pudera: um filme sobre jornalismo, guerra, com Meryl Streep, Tom Hanks e dirigido por Steven Spielberg. Quantos Oscars temos aqui? Parecia a receita da produção perfeita para a premiação.
E na verdade é. Porém "The Post" acabou se tornando o indicado a "Melhor Filme" com menos indicações na carreira de Spielberg - e o menor do ano também, com apenas duas. Cotado para os prêmios de "Direção", "Ator", "Roteiro Original", "Fotografia", Trilha Sonora", "Figurino" e "Montagem", só Streep, em sua vigésima primeira indicação, conseguiu figurar na lista da Academia. E isso pode dizer muita coisa.
"The Post" se passa durante o governo de Richard Nixon (1966, para ser mais exato) e narra a redação do The Washington Post tentando conseguir documentos secretos que descrevem a participação dos EUA na Guerra do Vietnã. O governo insistia que a guerra ia bem para o país, mas os documentos mostravam o contrário. A dona do jornal é Katharine Graham (Streep), assumindo após a morte do marido, e vê complicações diante dos colegas, que enxergam sua falta de experiência como um problema - além disso, ela era a primeira mulher a assumir o cargo. Enquanto isso, Ben Bradlee (Hanks), editor-chefe, está arrancando os cabelos para por as mãos nos documentos antes do The New York Times, que já publicou trechos do mesmo.
A primeira parte do longa é basicamente inteira recheada pela construção dos meandros daquele universo, e se arrasta sem dó entre os corredores das redações jornalísticas. São reuniões intermináveis de terno e gravata, milhares de nomes disparados para cima e para baixo, encontros sem grandes relevâncias narrativas, espiões infiltrados para descobrir a manchete da concorrência e toda a burocracia que Spielberg adora encher seus filmes e dar aquela "densidade". É tanta coisa acontecendo, e tudo sem grandes enfoques, que o primeiro ato é uma bagunça completa.
Com a publicação dos trechos pelo TNYT, a justiça intervém e proíbe a publicação do material na íntegra, sob pena de prisão dos envolvidos no jornal. É então que o TWP consegue todos os capítulos do documento, que abre o segundo ato da obra. O dilema fundamental de "The Post" é: deve o TWP publicar ou não o documento? Caso decida pela publicação, todo o jornal corre o risco de parar atrás das grades. Pela pressão política, os patrocinadores do jornal poderão cair fora antes que o barco afunde, principalmente por ter uma mulher como dona da empresa, que já vinha causando problemas de financiamento.
O sub-gênero drama jornalístico já faz sucesso há décadas, como "A Montanha dos Sete Abutres" (1951), "Todos os Homens do Presidente" (1976) e o vencedor do Oscar de "Melhor Filme", "Spotlight: Segredos Revelados" (2015). Um dos mais fortes motes dessa forma de bolo é evocar a integridade jornalística, a importância da impressa e como ela tem papel crucial no funcionamento social - em "Spotlight", por exemplo, vemos um grupo de repórteres enfrentando a igreja e expondo casos de abusos sexuais de padres, o que é imprescindível. Porém tal veia romântica do jornalismo não é latente em "The Post", o que acaba se tornando um problema.
A todo o momento, a principal justificativa que paira sobre as cabeças dos repórteres do TWP para a publicação dos documentos do Vietnã é: temos que publicar antes do TNYT. O Ben Bradlee de Hanks grita a todo o momento que eles devem largar na frente e que, a cada minuto, estão mais longes do furo completo. É claro que o compromisso social está envolvido em tudo isso, afinal, um escândalo político estava em suas mãos, todavia é impossível ignorar a impressão de que o jornalismo aqui está sendo usado como ferramenta de inflação do ego.
A encruzilhada a ser decidida por Katharine, a única com poder de bater o martelo sobre publicar ou não a história, é regida de maneira competente, rendendo os melhores momentos da película. Spielberg arma um circo com repórteres, editores e advogados correndo descabelados, gritando e fumando enlouquecidamente, a fim de escancarar a panela de pressão que todos estão comprimidos, enquanto a protagonista é jogada de um lado para o outro com vários argumentos sobre o destino do documento.
E os momentos finais dessa decisão são os que fazem justiça ao título de "thriller jornalístico" que o filme carrega. Um grande jogo é formado enquanto a plateia - e os repórteres na gráfica à ponto de explodirem - ficam na expectativa: várias pessoas, com diferentes opiniões, formam uma corrente telefônica que termina em Katharine, que permite a publicação frente à ameaça política e quebra de relações.
O que vem a seguir é evidente: o TWP é condenado e vai a julgamento; o último ato é formado então com o desenrolar do impacto da publicação. O que poderia ser feito com certa burocracia é praticamente jogado na tela, retirando toda a carga emocional do momento. Ao invés de desenvolver e brincar com expectativas, o longa entrega o desfecho de forma fácil e insossa, tendo uma ou duas cenas no tribunal e dando o veredito da forma mais letárgica possível. Ao invés de usar o tempo do primeiro e chatíssimo ato para finalizar a obra de maneira bem acabada, a produção resolve tudo em 15 minutos.
E fica gritante o exagero da cenografia adotada pelas escolhas de direção. Spielberg coloca seus atores em movimentos estranhos e não naturais para fazer a fotografia de Janusz Kamiński - duas vezes ganhador do Oscar de "Melhor Fotografia", ambos por filmes de Spielberg - girar ao redor dos mesmos, o que retira até mesmo a atenção para o que está acontecendo, já que fixamos naquele balé estranho. Todo o controle narrativo e de mise-en-scène em "The Post" é deficiente.
E nem mesmo Tom Hanks e Meryl Streep entregam grandes atuações. Enquanto Hanks está no mais absoluto piloto automático - até em "Ponte dos Espiões", também do Spielberg, ele está melhor -, Streep foi indicada ao Oscar puramente por ser Streep. Está muito mais que provado que ela jamais consegue fazer algo ruim, e sua Katharine não foge à regra, porém nada justifica mais uma indicação num ano com atrizes tão fortes - Brooklynn Prince por "Projeto Flórida" e Daniela Vega por "Uma Mulher Fantástica" eram nomes bem mais merecedores. Mas para quem foi indicada por "Caminhos da Floresta" e "Florence: Quem é Essa Mulher?", "The Post" está no lucro - e algo tinha que entrar para justificar a indicação a "Melhor Filme". Apostaram na opção mais fácil (e preguiçosa).
"The Post: A Guerra Secreta" consegue criar uma boa ponte histórica sobre o poder massivo do jornalismo entre o governo Nixon e o atual governo Trump, entretanto, está (bem) longe de figurar no hall dos grandes filmes jornalísticos. Encontra sucesso ao não ser ufanista quando se preocupa em mostrar toda a corrupção e sujeita da América política, todavia só ganha maior destaque pelo selo spielberguiano, que ano após ano parece estar mais distante de uma relevância cinematográfica com real diferença. O número pífio de indicações na premiação que sempre o adorou é um dos merecidos reflexos.
A primeira parte do longa é basicamente inteira recheada pela construção dos meandros daquele universo, e se arrasta sem dó entre os corredores das redações jornalísticas. São reuniões intermináveis de terno e gravata, milhares de nomes disparados para cima e para baixo, encontros sem grandes relevâncias narrativas, espiões infiltrados para descobrir a manchete da concorrência e toda a burocracia que Spielberg adora encher seus filmes e dar aquela "densidade". É tanta coisa acontecendo, e tudo sem grandes enfoques, que o primeiro ato é uma bagunça completa.
Com a publicação dos trechos pelo TNYT, a justiça intervém e proíbe a publicação do material na íntegra, sob pena de prisão dos envolvidos no jornal. É então que o TWP consegue todos os capítulos do documento, que abre o segundo ato da obra. O dilema fundamental de "The Post" é: deve o TWP publicar ou não o documento? Caso decida pela publicação, todo o jornal corre o risco de parar atrás das grades. Pela pressão política, os patrocinadores do jornal poderão cair fora antes que o barco afunde, principalmente por ter uma mulher como dona da empresa, que já vinha causando problemas de financiamento.
O sub-gênero drama jornalístico já faz sucesso há décadas, como "A Montanha dos Sete Abutres" (1951), "Todos os Homens do Presidente" (1976) e o vencedor do Oscar de "Melhor Filme", "Spotlight: Segredos Revelados" (2015). Um dos mais fortes motes dessa forma de bolo é evocar a integridade jornalística, a importância da impressa e como ela tem papel crucial no funcionamento social - em "Spotlight", por exemplo, vemos um grupo de repórteres enfrentando a igreja e expondo casos de abusos sexuais de padres, o que é imprescindível. Porém tal veia romântica do jornalismo não é latente em "The Post", o que acaba se tornando um problema.
A todo o momento, a principal justificativa que paira sobre as cabeças dos repórteres do TWP para a publicação dos documentos do Vietnã é: temos que publicar antes do TNYT. O Ben Bradlee de Hanks grita a todo o momento que eles devem largar na frente e que, a cada minuto, estão mais longes do furo completo. É claro que o compromisso social está envolvido em tudo isso, afinal, um escândalo político estava em suas mãos, todavia é impossível ignorar a impressão de que o jornalismo aqui está sendo usado como ferramenta de inflação do ego.
A encruzilhada a ser decidida por Katharine, a única com poder de bater o martelo sobre publicar ou não a história, é regida de maneira competente, rendendo os melhores momentos da película. Spielberg arma um circo com repórteres, editores e advogados correndo descabelados, gritando e fumando enlouquecidamente, a fim de escancarar a panela de pressão que todos estão comprimidos, enquanto a protagonista é jogada de um lado para o outro com vários argumentos sobre o destino do documento.
E os momentos finais dessa decisão são os que fazem justiça ao título de "thriller jornalístico" que o filme carrega. Um grande jogo é formado enquanto a plateia - e os repórteres na gráfica à ponto de explodirem - ficam na expectativa: várias pessoas, com diferentes opiniões, formam uma corrente telefônica que termina em Katharine, que permite a publicação frente à ameaça política e quebra de relações.
O que vem a seguir é evidente: o TWP é condenado e vai a julgamento; o último ato é formado então com o desenrolar do impacto da publicação. O que poderia ser feito com certa burocracia é praticamente jogado na tela, retirando toda a carga emocional do momento. Ao invés de desenvolver e brincar com expectativas, o longa entrega o desfecho de forma fácil e insossa, tendo uma ou duas cenas no tribunal e dando o veredito da forma mais letárgica possível. Ao invés de usar o tempo do primeiro e chatíssimo ato para finalizar a obra de maneira bem acabada, a produção resolve tudo em 15 minutos.
E fica gritante o exagero da cenografia adotada pelas escolhas de direção. Spielberg coloca seus atores em movimentos estranhos e não naturais para fazer a fotografia de Janusz Kamiński - duas vezes ganhador do Oscar de "Melhor Fotografia", ambos por filmes de Spielberg - girar ao redor dos mesmos, o que retira até mesmo a atenção para o que está acontecendo, já que fixamos naquele balé estranho. Todo o controle narrativo e de mise-en-scène em "The Post" é deficiente.
E nem mesmo Tom Hanks e Meryl Streep entregam grandes atuações. Enquanto Hanks está no mais absoluto piloto automático - até em "Ponte dos Espiões", também do Spielberg, ele está melhor -, Streep foi indicada ao Oscar puramente por ser Streep. Está muito mais que provado que ela jamais consegue fazer algo ruim, e sua Katharine não foge à regra, porém nada justifica mais uma indicação num ano com atrizes tão fortes - Brooklynn Prince por "Projeto Flórida" e Daniela Vega por "Uma Mulher Fantástica" eram nomes bem mais merecedores. Mas para quem foi indicada por "Caminhos da Floresta" e "Florence: Quem é Essa Mulher?", "The Post" está no lucro - e algo tinha que entrar para justificar a indicação a "Melhor Filme". Apostaram na opção mais fácil (e preguiçosa).
"The Post: A Guerra Secreta" consegue criar uma boa ponte histórica sobre o poder massivo do jornalismo entre o governo Nixon e o atual governo Trump, entretanto, está (bem) longe de figurar no hall dos grandes filmes jornalísticos. Encontra sucesso ao não ser ufanista quando se preocupa em mostrar toda a corrupção e sujeita da América política, todavia só ganha maior destaque pelo selo spielberguiano, que ano após ano parece estar mais distante de uma relevância cinematográfica com real diferença. O número pífio de indicações na premiação que sempre o adorou é um dos merecidos reflexos.